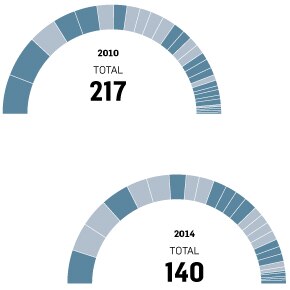- 0
Não há reforma que solucione toda a política
LOURIVAL SANT’ANNA - O ESTADO DE S.PAULO
02 Novembro 2014 | 03h 00
Especialistas divergem sobre o que e quando mudar e como incluir a sociedade no debate, que não pode ser visto como remédio único
Em seu discurso da vitória, no domingo passado, a presidente Dilma Rousseff elevou a reforma política ao topo de sua agenda. Mas, entre especialistas, há divergências sobre os principais pontos da reforma política - financiamento exclusivamente público, lista fechada e voto distrital - e até mesmo sobre a conveniência de se fazê-la.
RELACIONADAS
O tema, anunciou Dilma, seria objeto de plebiscito, como resposta às manifestações e aos escândalos de corrupção. A proposta foi recebida com frieza no Congresso. O PMDB, o maior aliado do governo, descartou a possibilidade de plebiscito, levando Dilma a recuar. Ao aceitar que a reforma seja aprovada em referendo, o governo devolve ao Congresso o controle sobre seu conteúdo e, principalmente, seu ritmo.
“Não existe nada de intrinsecamente ruim no sistema político brasileiro”, diz Luciano Dias, da CAC Consultoria Política, de Brasília. “A reforma organizada vem sendo feita pelo Judiciário.” Entretanto, “toda vez que o Judiciário faz uma reforma que o sistema político não aprova, ele a derruba”, afirma Dias, lembrando o caso da verticalidade, em que o Supremo Tribunal Federal impôs coerência nas coligações estaduais e federais, e o Congresso votou depois uma lei permitindo que os partidos se coliguem como quiserem.
“Não convém estar mudando”, recomenda Leôncio Martins Rodrigues, especialista em representação política. “Para que um sistema ganhe legitimidade, é preciso tempo. Quando mudam rapidamente as regras do jogo, enfraquece a Constituição democrática. É preciso cuidado e não alimentar ilusões. Políticos não vão deixar de ser corruptos só porque mudaram as regras do jogo. Não há sistema eleitoral perfeito. Veja os problemas que tem o sistema americano.”
Momento. “Acho que este momento não poderia ser pior para uma tentativa de reforma”, critica Bolívar Lamounier, consultor e cientista político. “O País está muito dividido, e a pauta prioritária é a econômica. Soa como tentativa de entulhar a pauta para o Congresso se ocupar com reforma política e não acompanhar a questão econômica, o escândalo de corrupção na Petrobrás etc.”
Já outros especialistas acham que uma reforma é necessária e o momento, propício. “Desde junho de 2013, as manifestações apontaram para algo dessa natureza”, analisa Maria do Socorro Braga, da Universidade Federal de São Carlos. “A presidente tentou, mas o Congresso recusou. Ela saiu vitoriosa da eleição, com forte apoio da militância do PT. Pode ser um bom momento.”
“Você tem aí uma certeza geral de que ajustes precisam ser feitos”, observa Marco Antonio Teixeira, da FGV. “Alguma resposta tem de sair neste momento, principalmente na questão do financiamento”, diz ele, referindo-se ao escândalo de corrupção na Petrobrás. “Se não mexer agora, o Supremo vai fazer mudança drástica.” O STF vai decidir sobre a legalidade de doações de campanha por empresas.
“Essa reforma vai sair porque a iniciativa, desta vez, virá do Supremo”, aposta Bruno Speck, da USP, que estuda financiamentos de campanhas. “Se a proibição do financiamento empresarial sair, não será mais possível ignorar esse assunto. Forçará os outros atores a tomar posição mais clara.” O Congresso tem duas opções, acredita Speck: ou muda a Constituição para permitir o financiamento pelas empresas - o que ele acha improvável, porque “pegaria muito mal” - ou reforma o sistema, limitando as doações de empresas ou instituindo financiamento exclusivamente público.
Consulta. Para Lamounier, o debate sobre se a reforma deve passar por plebiscito ou referendo é inócuo. “Dá na mesma. No plebiscito, pede-se antes à população autorização para o Congresso votar o projeto; no referendo, pede-se depois aprovação para matéria extremamente complexa votada pelo Congresso.”
“O povo não sabe o que está escrito na Constituição a respeito das instituições políticas”, diz o cientista político. Ele teme que se crie um “clima plebiscitário que abrirá caminho para coisas inaceitáveis, como o controle do conteúdo da mídia”.
“O apelo à soberania popular deve ser feito em momento de crise insolúvel”, analisa Roberto Romano, professor de ética da Unicamp. “Usar plebiscito para resolver problemas que podem ser resolvidos no sistema de representação comum é abusar do plebiscito. Referendo não é a mesma coisa, mas é quase.” Ele se preocupa com o risco de manipulação do resultado por meio da formulação das perguntas. “Nem da parte dos dirigentes nem da população tem condição de se fazer uma coisa prudente”, adverte. “Praticamente todo o sistema poderá ser modificado por um cheque em branco. Acho gravíssimo.”
“No cenário ideal, o plebiscito seria muito melhor”, opina Teixeira. “Não vejo como tomar uma decisão dessa sem incluir a sociedade.” Maria do Socorro explica que a ideia de consulta popular tem a ver com o fato de a base do governo ter saído da eleição com maioria mais estreita. “O Congresso nunca quis reforma”, constata a socióloga. “Reforma política sempre vai privilegiar um grupo, e quem propõe leva vantagem. Por isso a presidente joga para a população, para não ser afetada pela imprevisibilidade dos players.”